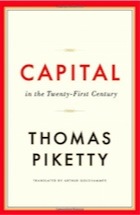quinta-feira, 24 de abril de 2014
BALANÇO DA ARTICULAÇÃO NACIONAL PELA REFORMA POLÍTICA
BALANÇO DA ARTICULAÇÃO NACIONAL PELA REFORMA POLÍTICA
POR Rudá Ricci
Percebo certa confusão nas redes sociais sobre a articulação nacional de movimentos sociais e organizações populares (além de ongs, pastorais etc) a respeito da reforma política. Como Dilma, em junho, acatou esta agenda (que ela não criou) possivelmente por sugestão de Gilberto Carvalho (que tem fortes ligações com várias dessas entidades... a entidade que dirijo também faz parte desta rede), há certa confusão se a campanha que começa a dar o ar da graça nas ruas (como em São Paulo, no dia de hoje). Então, vou tentar fazer um breve balanço.
A primeira grande divergência com o campo institucional (e parece que Dilma quase foi crucificada por se alinhar com esta crítica, em junho) é a distinção entre reforma eleitoral (a efetiva pauta do PT - não da Dilma) com reforma política. A agenda da articulação nacional (que aqui passo a denominar de "popular" apenas para diferenciar da parlamentar/partidária) foca a atenção no sistema político. Sistema político envolve todos os processos decisórios, portanto é uma discussão sobre o poder, sobre mecanismos disponíveis para o exercício do poder e instrumentos existentes para controlar o poder e quais os sujeitos políticos reconhecidos para o exercício do poder. Aqui, vale o destaque que o jurista Fábio Konder Comparato vem fazendo para esta articulação que se resume no diagnóstico de que temos uma democracia sem povo. Isso é, os nossos processos democráticos não são alicerçados na soberania popular. Então, onde estão alicerçados? No poder econômico e na reprodução das desigualdades. Temos um poder masculino, branco e proprietário. A partir daí, foram formuladas duas grandes estratégias do campo popular a respeito do tema. Uma é a Iniciativa Popular pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas e a outra é o Plebiscito Popular pela Convocação de uma Assembleia Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político. Esta agenda não é do governo federal e de nenhum partido.
A iniciativa popular é organizada pela Coalizão pela Reforma Política, que promoveu um processo de dialogo e unificou a proposta da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político e a do Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE). A iniciativa popular é um instrumento da democracia direta previsto na Constituição e tem uma serie de exigências, como por exemplo: obter perto de 1.500.000 assinaturas; não pode apresentar propostas de mudança constitucional e precisa identificar o número do titulo eleitoral de cada signatário.
A iniciativa popular é uma estratégia que se propõe atuar em um tempo político mais curto, isso é, mobilizar a sociedade para forçar que este Congresso aprove uma reforma política que responda aos anseios de amplos segmentos da sociedade.
Na questão do financiamento propõe mecanismos democráticos proibindo o aporte de recursos por parte das empresas. As eleições passariam a ser financiadas com recursos do orçamento público, de contribuições de pessoas físicas. Tudo isso com limites e como estratégia de democratizar o processo, combater a corrupção, limitar e baratear os custos das campanhas. Propõe um sistema de escolha dos/as representantes em dois turnos. Os partidos elaboram de forma democrática listas partidárias com alternância de sexo e critérios de inclusão dos demais segmentos sub-representados. O primeiro turno visa definir quantas cadeiras no parlamento o partido vai ter. No segundo turno participa o dobro de candidatos e o/a eleitor/a vota no nome de seu representante. Para fortalecer a democracia direta propõe que determinados temas só possam ser decididos por plebiscitos e referendos, como por exemplo: grandes projetos com grandes impactos socioambientais, privatizações, concessões de bens públicos, megaeventos com recursos públicos, entre outros. Para conhecer na integra a proposta da Iniciativa Popular, clique AQUI .
Já o plebiscito popular abarca três estratégias: trabalho de base, formação política e discussão ampla com a sociedade. Busca-se debater a institucionalidade que temos e a que queremos (sistema político) e o lócus político para se fazer esse debate é a convocação de uma Assembleia Constituinte Exclusiva e Soberana. Neste sentido o horizonte político do plebiscito popular é mais longo prazo, é de acumular forças na sociedade para poder provocar as rupturas que precisamos. Neste sentido é importante o processo de conquista de uma Assembleia Constituinte Exclusiva e Soberana. Esta mesma demanda por uma Constituinte Exclusiva e Soberana esteve presente em 1985. Mas, não tivemos força política suficiente para torná-la realidade na ocasião e tivemos uma Constituinte Congressual (o Congresso que fez), sem soberania (pois estava subordinada a vontade do executivo, dos militares e do poder judiciário). Em outras palavras, para provocar as rupturas que precisamos, urge criar novas institucionalidades onde o alicerce do poder é a soberania popular, onde o poder constituinte seja a próprio poder popular.
quarta-feira, 16 de abril de 2014
domingo, 13 de abril de 2014
"Occupy tinha razão: o capitalismo não tem como funcionar" (Thomas Piketty)
Ocuppy estava certo: o capitalismo está falhando
Um dos slogans da ocupação protestos 2011 era "o capitalismo não está funcionando". Agora, em um inovador livro, o economista francês Thomas Piketty explica porque eles estavam certos

Economista francês Thomas Piketty, autor de Capital no Século XXI. "Eu não sou político." Foto: Ed Alcock para o Observer
A Escola de Economia de Paris é, na verdade, situada na parte mais não-parisiense da cidade. Na avenida Jourdan na extremidade inferior do 14 º arrondissement, limitado de um lado pelo Parque Montsouris. Diferentemente da maioria dos parques franceses, há uma clara falta de ordem gaulês aqui; de fato, os lagos, espaços abertos, e os seus patos poderiam estar em um parque em qualquer cidade britânica. O campus da Escola de Economia de Paris, no entanto, parece inequivocamente uma universidade francesa. Ou seja, ele é cinza, sem graça e os corredores cheiram repolho. Este é o lugar onde entrevistei o Professor Thomas Piketty, um jovem francês modesto (ele está em seus primeiros 40 anos), que passou a maior parte de sua carreira em arquivos e coleta de dados, mas está prestes a emergir como o pensador mais importante de sua geração - como o Hacker Yale acadêmico Jacob colocou, um pensador livre e democrata que é nada menos que uma "Alexis de Tocqueville para o século 21".
Tudo em função de seu mais recente livro: Capital no século XXI .Um livro enorme, mais de 700 páginas, denso com notas de rodapé, gráficos e fórmulas matemáticas. À primeira vista, é descaradamente um tomo acadêmico e parece tanto assustador como incompreensível. Nas últimas semanas e meses, o livro tem, no entanto desencadeou debates ferozes nos Estados Unidos sobre a dinâmica do capitalismo. Em blogs não-especializadas e sites em toda a América, ele despertou discussões sobre o poder e o dinheiro, questionando o mito central da vida americana - que o capitalismo melhora a qualidade de vida para todos. Isto simplesmente não é assim, diz Piketty.
O pioneirismo do livro foi reconhecido por um longo ensaio recente no New Yorker em que Branko Milanovic, ex-economista sênior do Banco Mundial, que destacou o livro de Piketty como um divisor de águas no pensamento econômico. Na mesma linha, um escritor na Economist informou que o trabalho de Piketty fundamentalmente reescreveram 200 anos de pensamento econômico sobre a desigualdade. Em suma, os argumentos têm-se centrado em dois pólos: o primeiro é uma tradição que começa com Karl Marx, que acreditava que o capitalismo se auto-destruiria. No extremo oposto do espectro é o trabalho de Simon Kuznets, que ganhou um prêmio Nobel em 1971 e que sustentou que a desigualdade decresceria inevitavelmente na medida em que as economias se desenvolvem e se tornam sofisticados.
Piketty diz que nenhum desses argumentos se comprovaram. O significado singular de seu livro é que ele prova "cientificamente" que a intuição dos manifestantes do Occupy estava correta.
"Eu fiz deliberadamente um livro para o leitor em geral", diz Piketty quando começamos nossa conversa ", e, embora seja, obviamente, um livro que pode ser lido por especialistas também, eu queria deixar isto claro para todos aqueles que desejam lê-lo."
E de fato Capital no Século XXI é surpreendentemente legível. Ele está repleto de histórias e referências literárias que iluminam a narrativa. Então eu perguntei-lhe a pergunta mais óbvia que pude: o que é a grande ideia por trás deste livro?
"Comecei com uma pesquisa a partir de um problema simples", diz ele no elegante Inglês com sotaque francês. "Comecei a me perguntar a alguns anos atrás, onde estavam os dados que poderiam comprovar todas as teorias sobre a desigualdade, a partir de Marx para David Ricardo (o economista Inglês do século 19 e defensor do livre comércio) e pensadores mais contemporâneos. Comecei com a Grã-Bretanha e na América e eu descobri que não havia muito a todos. E então eu descobri que os dados contradiziam quase todas as teorias, incluindo Marx e Ricardo. Comecei a olhar para outros países e vi um padrão que começa a emergir: o capital, e o dinheiro que ele produz, se acumula mais rapidamente do que o crescimento das sociedades. E este padrão tornou-se ainda mais predominante desde os anos 1980 quando os controles sobre o capital foram suspensos em muitos países ricos. "
Assim, a tese de Piketty, apoiado por sua extensa pesquisa, é que a desigualdade financeira no século 21 está em ascensão, e acelerando em um ritmo muito perigoso. Por um lado, isso muda a nossa forma de olhar para o passado. Nós já sabíamos que o fim do capitalismo previsto por Marx nunca aconteceu - e que mesmo na época da Revolução Russa de 1917, os salários de todo o resto da Europa já estavam em ascensão. Sabíamos também que a Rússia era assim mesmo o país mais subdesenvolvido na Europa e foi por esta razão que o comunismo criou raízes lá. Piketty passa a salientar, no entanto, que somente as crises do século 20 - principalmente duas guerras mundiais - impediu o crescimento constante de riqueza, temporariamente e artificialmente nivelamento desigualdade. Ao contrário do que nossa percepção percebido do século 20 como uma época em que a desigualdade foi erodido, em termos reais, foi sempre em ascensão.
No século 21, este não é apenas o caso dos chamados países "ricos" - Estados Unidos, Reino Unido e Europa ocidental -, mas também na Rússia, China e outros países que estão emergindo de uma fase de desenvolvimento. O perigo real é que, se este processo não for contido, a pobreza vai aumentar no mesmo ritmo e, Piketty argumenta, pode transformar o século 21 num século de maior desigualdade e, portanto, maior discórdia social, que a do século 19 .
Ele explica suas idéias com fórmulas e teoremas que soam um pouco técnicas demais (eu sou alguém que lutou com a matemática). Mas, ouvindo atentamente Piketty (ele é claramente um bom e paciente professor) tudo começou a fazer sentido. Para este novato, ele explica que a renda é um fluxo - ele se move e pode crescer e mudar. O capital é um estoque - a sua riqueza vem do que foi acumulado "em todos os anos anteriores combinados". É um pouco como a hipoteca de uma casa: se você nunca se torna dono de sua casa, você nunca vai ter todo o estoque e sempre será pobre.
 . Protestos estudantis em 2010 Piketty diz: "É um exemplo perfeito de como a infligir dívida no setor público." Foto: Dominic Lipinski / PA
. Protestos estudantis em 2010 Piketty diz: "É um exemplo perfeito de como a infligir dívida no setor público." Foto: Dominic Lipinski / PA
Em outras palavras, em termos globais, o que ele está dizendo é que aqueles que têm o capital e os ativos que geram riqueza (como um príncipe saudita) serão sempre mais ricos do que os empresários que estão tentando fazer capital. A tendência do capitalismo neste modelo é concentrar mais e mais riqueza nas mãos de cada vez menos pessoas. Mas já não sabemos disso? Os ricos ficam ricos e os mais pobres ficam mais pobres? Clash e outros não cantaram isso na década de 1970?
"Bem, na verdade, não sabiamos disso, apesar de que poderíamos ter imaginado", diz Piketty, aquecendo a seu tema. "Por um lado esta é a primeira vez que temos acumulado dados que provam que este é o caso. Em segundo lugar, embora eu não seja um político, é óbvio que este movimento, que está se acelerando, terá implicações políticas. Vamos ser mais pobres no futuro em todos os sentidos e isso criará crises. Tenho provado que nas atuais circunstâncias o capitalismo simplesmente não pode funcionar. "
Curiosamente, Piketty diz que ele é um anglófilo e de fato começou a sua carreira de investigação com um estudo do sistema de Inglês do imposto de renda ("um dos dispositivos políticos mais importantes da história"). Mas ele também diz que o Inglês tem muita fé cega nos mercados que eles nem sempre entendem. Discutimos a atual crise nas universidades britânicas. Muitos afirmam que estão sem dinheiro porque o governo calculou mal o que os alunos teriam que pagar e é agora incapaz de garantir que os empréstimos distribuídos serão reembolsados. Em outras palavras, o governo não podia controlar todas as variáveis do mercado e parece pronto para perder espetacularmente. Ele ri: "Este é um exemplo perfeito de como a infligir a dívida para o setor público extraordinário e completamente impossível de imaginar, na França.".
Capital do Século XXI é construído a partir de uma infinidade de referências francesas (o historiador François Furet é fundamental), e Piketty declara que ele entende o cenário político francês melhor de todos. Ele foi criado em Clichy, em um bairro de classe operária e, principalmente, seus pais eram ambos membros militantes da Lutte Ouvrière (Luta Operária) - um partido trotskista incondicional que tem ainda um significativo número de seguidores na França. Como muitos de sua geração, desapontado com o fracasso de quase-revolução de maio de 68, eles decidiram criar cabras na Aude (isso foi uma trajetória clássica para muitos babacools - hippies de esquerda - desta geração). O jovem Piketty trabalhou duro na escola, no entanto, estudou em Paris e terminou seu PhD na Escola de Economia de Londres, aos 22 anos. Ele, então, mudou-se para Massachusetts Institute of Technology, onde era um prodígio notável, antes de se mudar de volta a Paris, para finalmente tornar-se diretor da escola onde agora estamos sentados.
 Piketty defende um imposto sobre a fortuna, mas admite que fazer os ricos pagarem mais vai ser difícil, como François Hollande percebeu. Fotografia: Philippe Wojazer / Reuters
Piketty defende um imposto sobre a fortuna, mas admite que fazer os ricos pagarem mais vai ser difícil, como François Hollande percebeu. Fotografia: Philippe Wojazer / Reuters
Seu próprio itinerário político começou, ele me diz, com a queda do Muro de Berlim, em 1989. Ele partiu para viajar por toda a Europa de Leste e ficou fascinado com os destroços do comunismo. Foi este fascínio inicial que o levou para uma carreira como economista. A Guerra do Golfo, de 1991, também o influenciou. "Eu podia ver, então, que tantas más decisões foram tomadas por políticos, porque não entendem de economia. Eu não sou político. Mas eu ficaria feliz se os políticos pudessem ler meu trabalho e tirar algumas conclusões a partir dele . "
Afirmação um pouco hipócrita. Piketty chegou a trabalhar como assessor de Ségolène Royal em 2007, quando ela era candidato socialista nas eleições presidenciais. Este não foi um período feliz. É justo, depois de toda situação obscura que envolveu a trajetória pessoal de Ségolène, que Piketty queira se distanciar do cotidiano ásperoda política real.
Mas não importa. O que aprendemos? O capitalismo é ruim. E qual seria a resposta? Socialismo? "Não é tão simples assim", diz ele, desapontando este ex-marxista adolescente. "O que eu defendo é um imposto progressivo, um imposto global, baseado na tributação da propriedade privada. Esta é a única solução civilizada. As outras soluções são, penso eu, mais bárbaras
-.Com isso quero dizer o sistema oligarca da Rússia , que eu não acredito, e inflação, que é realmente apenas um imposto sobre os pobres."
Ele explica que a oligarquia, particularmente no atual modelo russo, é simplesmente a regra dos muito ricos sobre a maioria. Isto é tão tirânico quanto uma forma de banditismo. Ele acrescenta que os muito ricos não costumam ser feridos pela inflação - com seus acréscimos patrimoniais que ocorrem de qualquer maneira - mas os pobres sofrem o pior de tudo, com um aumento do custo de vida. Um imposto progressivo sobre a riqueza é a única solução sensata.
Mas sustentei que nenhum partido político na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos, de esquerda ou direita, se atreveria a ir às urnas com tais idéias idealistas. O atual governo de François Hollande não é desprezado por causa de seus pecadilhos sexuais do presidente (ao contrário, estes são praticamente amplamente admirado), mas por causa do regime de tributação punitiva ele tem procurado impor.
"Isso é verdade", diz ele. "É claro que é verdade. Mas também é verdade, como eu e os meus colegas têm demonstrado neste livro, que a situação atual não pode ser sustentada por muito tempo. Isso não é necessariamente uma visão apocalíptica. Fiz um diagnóstico da situações passadas e presentes e eu acho que há soluções. Mas, antes de chegar a eles, devemos entender a situação. Quando comecei a coleta de dados fiquei realmente surpreso com o que encontrei, que revelava que a desigualdade está crescendo tão rápido e que o capitalismo não pode, aparentemente, resolvê-la. Eu queria entender como a riqueza, ou super-riqueza, está trabalhando para aumentar a desigualdade. E o que eu encontrei, como eu disse antes, é que a velocidade com que a desigualdade está crescendo está ficando cada vez mais rápida. Você tem que perguntar o que isso significa para as pessoas comuns, que não são bilionárias e que nunca serão bilionárias. Bem, eu acho que isso significa uma deterioração do bem-estar econômico coletivo, ou seja, a degradação do setor público. Você só tem que olhar para o que a administração de Obama quer fazer - que é a corroer as desigualdades na área da saúde e assim por diante - e o quão difícil é conseguir. Existe uma crença fundamentalista dos capitalistas que o capital vai salvar o mundo, e ele simplesmente não vai. Não por causa do que disse Marx sobre as contradições do capitalismo, porque, como eu descobri, o capital é um fim em si ".
Piketty oferece este discurso, erudito e poderoso, com uma paixão silenciosa. Ele possui, pode-se imaginar, um caráter relativamente modesto e discreto, mas ele ama o seu assunto e é de fato um prazer encontrar-se no meio de um seminário privado sobre dinheiro e como ele funciona. Seu livro é, de fato, longo e complicado, mas quem vive no mundo capitalista pode entender os seus argumentos sobre a forma como ele funciona. Um dos mais penetrantes destes é o que ele tem a dizer sobre a ascensão de gestores, ou "super-gestores", que não produzem riqueza, mas que derivam de um salário dele. Isso, argumenta ele, é efetivamente uma forma de roubo - mas isso não é o pior crime dos super-gestores. Mais prejudicial é a maneira que eles se fixaram em concorrência com os bilionários cuja riqueza, acelerando para além da economia, sempre estarão fora do alcance.Isso cria um jogo permanente de catch-up, cujas vítimas são os "perdedores", que é dizer que as pessoas comuns que não aspiram a esse status ou riquezas. Neste capítulo, Piketty efetivamente destrói uma das grandes mentiras do século 21 - que super-gestores merecem o seu dinheiro, porque, como jogadores de futebol, eles têm habilidades especializadas que pertencem a uma elite quase sobre-humana.
"Uma das grandes forças divisionistas no trabalho hoje", diz ele, "é o que eu chamo o extremismo meritocrática. Este é o conflito entre bilionários, cuja renda vem de bens móveis e imóveis, como um príncipe da Arábia Saudita, e os super-gestores. Nenhuma dessas categorias faz ou produz nada além de sua riqueza, que é realmente uma super-riqueza que rompeu com a realidade cotidiana do mercado, e que determina como a maioria das pessoas comuns vivem. Pior ainda, eles estão competindo entre si para aumentar a sua riqueza, e o pior de todos os cenários é como super-gestores, cuja renda é baseado efetivamente na ganância, continua dirigindo os seus salários, independentemente da realidade do mercado. Isto é o que aconteceu com os bancos em 2008, por exemplo. "
É esse tipo de pensamento que faz o trabalho de Piketty tão atraente e tão convincente. Ao contrário de muitos economistas ele insiste que o pensamento econômico não pode ser separado da história ou da política; isso é o que dá o seu livro a gama o laureado Nobel americano Paul Krugman descreveu como "épica" e uma "visão abrangente".
A influência de Piketty de fato está crescendo muito além do pequeno micro-sociedade fechada de economistas acadêmicos. Na França, ele está se tornando amplamente conhecido como um comentarista de assuntos públicos, escrevendo principalmente para Le Monde e Libération , e suas idéias são freqüentemente discutidas por políticos de todos os matizes em programas de assuntos atuais, comoSoir 3 .
Talvez o mais importante, e excepcionalmente, a sua influência é crescente no mundo da política anglo-americanas (seu livro é, aparentemente, um dos favoritos no círculo interno Miliband) - um lugar tradicionalmente indiferente a professores franceses da economia. Com o aumento da pobreza em todo o mundo, todo mundo está sendo obrigado a ouvir Piketty com grande atenção. Mas, embora o seu diagnóstico seja preciso e convincente, é difícil, quase impossível, imaginar que a cura que ele propõe - imposto e mais imposto - seja implementado em um mundo onde, de Pequim a Moscou ou Washington, o dinheiro e aqueles que querem ter mais que qualquer outra pessoa ainda mandam.
Thomas Piketty estará falando sobre Capital no IPPR, Londres WC2 , em 30 de abril, e no LSE, Londres WC2 , em 16 de Junho
Inflexão no cenário político
Entramos num cenário dos mais estranhos na política nacional.
De um lado, uma economia que faz água. De outro, a grande maioria dos petistas militantes virtuais perdidos, atirando para os lados e não percebendo que revelam destempero e desespero (o que denuncia que o momento é mesmo grave do ponto de vista da projeção eleitoral).
Finalmente, um confronto aberto na cidade do Rio de Janeiro, seguida por conflitos urbanos em um ou outro centro urbano do país. A OAB-RJ, no meu lançamento do livro Nas Ruas, na última sexta-feira, afirmava que o Rio de Janeiro vive uma situação de Estado de Sítio.
O clima de Copa do Mundo até agora não deslanchou e a vida do consumidor popular vai abandonando os últimos traços da euforia da gestão Lula.
Vale citar a propaganda eleitoral da oposição. Continuam no clima intimista de conversa tête-à-tête: Campos conversando com Marina sem aparecer um único eleitor para dar seu pitaco nesta conversa de fim de tarde (ou seriam dois oráculos?) e Aécio implorando para alguém conversar com ele. Aliás, tenho a impressão que Aécio conquistou o "posicionamento negativo" nesta campanha, ou seja, está cristalizando perigosamente um perfil, em relação aos outros, de perdedor. Qualquer coisa que diga ou faça, cai numa vala comum, como se seu lugar fosse menor nesta eleição. Algo que não cola. O contrário do fenômeno "teflon" que se alardeava sobre Lula (nenhuma acusação colava na sua imagem). Como se Aécio entrasse na sala e ninguém desse a mínima para o que ele fala. A situação de Pimenta da Veiga, indiciado pela Polícia Federal, torna-se mais um lastro que joga a campanha tucana para baixo.
Um cenário estranho, desencontrado, sem foco.
De um lado, uma economia que faz água. De outro, a grande maioria dos petistas militantes virtuais perdidos, atirando para os lados e não percebendo que revelam destempero e desespero (o que denuncia que o momento é mesmo grave do ponto de vista da projeção eleitoral).
Finalmente, um confronto aberto na cidade do Rio de Janeiro, seguida por conflitos urbanos em um ou outro centro urbano do país. A OAB-RJ, no meu lançamento do livro Nas Ruas, na última sexta-feira, afirmava que o Rio de Janeiro vive uma situação de Estado de Sítio.
O clima de Copa do Mundo até agora não deslanchou e a vida do consumidor popular vai abandonando os últimos traços da euforia da gestão Lula.
Vale citar a propaganda eleitoral da oposição. Continuam no clima intimista de conversa tête-à-tête: Campos conversando com Marina sem aparecer um único eleitor para dar seu pitaco nesta conversa de fim de tarde (ou seriam dois oráculos?) e Aécio implorando para alguém conversar com ele. Aliás, tenho a impressão que Aécio conquistou o "posicionamento negativo" nesta campanha, ou seja, está cristalizando perigosamente um perfil, em relação aos outros, de perdedor. Qualquer coisa que diga ou faça, cai numa vala comum, como se seu lugar fosse menor nesta eleição. Algo que não cola. O contrário do fenômeno "teflon" que se alardeava sobre Lula (nenhuma acusação colava na sua imagem). Como se Aécio entrasse na sala e ninguém desse a mínima para o que ele fala. A situação de Pimenta da Veiga, indiciado pela Polícia Federal, torna-se mais um lastro que joga a campanha tucana para baixo.
Um cenário estranho, desencontrado, sem foco.
sexta-feira, 4 de abril de 2014
A crítica à Copa no Brasil
Já sabemos que brasileiro faz do humor uma arma mordaz, até mesmo de si.
Mas a juventude de hoje amplia, pouco a pouco, esta linguagem com paródias e pequenos filmetes postados no youtube. Este aí abaixo é um bom exemplo:
Mas a juventude de hoje amplia, pouco a pouco, esta linguagem com paródias e pequenos filmetes postados no youtube. Este aí abaixo é um bom exemplo:
quinta-feira, 3 de abril de 2014
Resenha de Bruno Cava do livro Nas Ruas
Entre estilos de vida e mobilização de base, o livro de Rudá Ricci e Patrick Arley
Resenha de Nas ruas; a outra política que emergiu em junho de 2013, de Rudá Ricci e Patrick Arley. Belo Horizonte: Letramento, 2014.
–
–
O PT envelheceu, mas Rudá se manteve suficientemente jovem para abrir-se ao evento do levante de 2013. Seu blogue tem sido uma referência de reflexão política, diferenciado em relação às neuroses que piolham na cabeça da esquerda brasileira, quando o assunto é manifestação. Se boa parte dos comentadores, sentindo-se ameaçada em sua identidade, não perde uma chance de escandalizar-se com o risco de fascismo (retrocesso, caos, golpe etc), engrossando o coro de desqualificação e eventualmente criminalização das lutas; Rudá tomou o sentido oposto. Como tem de ser um pensamento que se coloque na margem esquerda e, por isso, se veja impelido a radicar-se no tempo histórico, naquele em que se vive intensamente, suas transformações, oportunidades e linhas de fuga.
Nas ruas, com fotos de Patrick Arley, resulta de uma pesquisa com as redes de organização do ciclo de protestos disparado em junho, concentrado em Belo Horizonte (“estudo de caso”). Parte do livro se dedica a mapear dinâmicas de encontro, debate, conjunção e formulação em BH, sob o rugido alucinante de passeatas, ocupações e eventos político-culturais daqueles dias. Rudá e Arley saíram de casa para pesquisar os germes de um movimento de novo tipo, que as forças eleitorais não conseguiram capitalizar. O que eles descobriram não está em nenhum manual de juventude partidária.
O livro não exalta os protestos. A delícia da manifestação, não poder ser dirigida, é também uma limitação. Se, por um lado, a horizontalidade reivindicada confere grande liberdade de participação, por outro, corre o risco de devorar a própria pauta ao fechar-se sobre si mesma, autofágica. Se, por um lado, a rejeição do campo institucional frustra as tentativas de captura por aparelhos partidários ou empresariais, por outro, corre o risco de ignorar chances de afetar e regenerar as instituições existentes. Rudá está preocupado seja com o fechamento institucional diante das manifestações, operado por uma esquerda antiprotesto cada vez mais terrorista, seja com o desprezo ou a incapacidade de provocar e aproveitar respostas institucionais, por parte dos ativistas.
Mas se o livro reconhece a capacidade de reorganização dos movimentos diante dos impasses, graças à vitalidade e aprendizado contínuo, essa avaliação não vale em relação à esquerda plantada no governo Dilma e no PT. Aí, Rudá é bem realista: os ativistas deveriam mesmo se precaver para o pior. Foram anos demais dando as costas às redes de militância, maceteado por um modelo operado desde cima, mediante pesquisas quantitativas, índices macroeconômicos e publicitários. O militante petista cedeu lugar ao gestor público; o desejo de libertação substituído pela reponsabilidade gerencial. Os congressos, núcleos e conferências se tornaram rituais rigorosamente burocráticos, sem qualidade criativa. É a indigência de uma esquerda de empreendedores estatais, que incorporou à estrutura de estado o que deveria exprimir forças vivas de antagonismo e reinvenção.
O resultado disso é um déficit de representação cada vez maior, entre os poderes instituídos e a potência social. Enquanto as instâncias representativas seguem fundadas sobre um esquema verticalizado, o “padrão societal” mudou, organizado mais horizontalmente, por meio de redes de liderança distribuída, onde todos passam a desfrutar seu espaço próprio de autonomia e expressividade. Uma transformação, na verdade, que é global, porque repercute formas gerenciais do capitalismo no mundo todo. Mas que, aqui no Brasil, também está associada ao esgotamento de um modelo de inclusão social. Rudá está falando do “lulismo”, um pacto de governabilidade que, aliado ao capital, promove um aumento de renda e acesso ao consumo, mas vem desacompanhado de redistribuição do poder político, outros direitos, terras.
Desde 2003, o pacto lulista, embora tenha massificado alguma renda e consumo, não enfrentou as estruturas classistas e racistas que historicamente reproduzem a tremenda desigualdade no Brasil. Isto significa que, apesar da inclusão social, o governo se distanciou das transformações do “padrão societal”. E como não há vazio de poder, a lacuna é gradualmente preenchida por modos mais diretos de organizar e agir políticos, “por fora” dos esquemas da representação. Até explodir em junho de 2013, “fora e contra”, contagiado pela peste global de movimentos antirrepresentativos.
Em contrapartida, Rudá enxerga elementos negativos da transformação do “padrão societal” nos grupos e sujeitos que também estão nas ruas. Atualizando uma crítica antiga aos movimentos sesseitoitistas, o problema estaria no caráter excessivamente “intimista”. Em vez do trabalho racional de construção política, ganham prioridade um culto à expressividade como fim em si mesmo, à estética, ao hedonismo, ao cultivo de “estilos de vida” — práticas apenas aparentemente subversivas, porém facilmente acomodáveis na cultura consumista que, para o autor, marca a condição pós-moderna. Disseminada em larga escala, a tendência intimista conduz a manifestações em que tudo é expresso, onde todos têm voz e podem desaguar imediatamente suas indignações e particularidades. Porém, nada acaba sendo verdadeiramente construído, como legado duradouro e sólido, legado coletivo e coletivamente trabalhado. Nessa tendência intimista, o protesto se resolve num “surto catártico”, numa imagem macbethiana: cheia de barulho e de fúria, mas sem significar nada.
Some-se a isso, segundo Rudá, o ressentimento da velha classe média brasileira diante da invasão de seus lugares de status (universidade, aeroportos, shoppings), bem como o aumento do “conservadorismo popular”, por culpa do próprio lulismo. Tudo computado, está comprometida a construção racional de uma força política alternativa ao esquemão dominante das instituições.
O que talvez possa ser virado do avesso, nessa reconstrução das razões sociais do levante de 2013, seja o ponto de vista. Rudá parece tomar alguns processos históricos e políticos com uma primazia pelo lado da negatividade, vendo primeiro de tudo a captura das potencialidades, conforme novos esquemas de controle e desmobilização política.
Os movimentos de 1968, é verdade, foram parcialmente recuperados pelo capitalismo global, ao longo das décadas de 1970 e 1980. Veja-se, por exemplo, o misto de análise cultural e narrativa socio-histórica de Luc Boltanski e Ève Chiapello, no clássico O novo espírito do capitalismo. Não é novidade que o marketing de empresas “2.0″ esteja capitalizando a energia de lutas e desejos políticos, as chamadas “externalidades positivas”: o que a empresa não gera, mas sabe parasitar, agregando valor simbólico às próprias marcas. Além disso, não há dúvida, o lulismo serve à expansão da franja capitalista no Brasil, tendo conseguido subsumir enorme fração da população aos circuitos de trabalho e consumo, dinamizando a economia, e produzindo ainda maiores extratos de valor para o capital.
Contudo, embora tudo isso esteja correto, os mesmos processos com efeito de escala estão atravessados por contradições e múltiplas valências. Habemus resistência, “dentro e contra” o avanço do capital. Se, com efeito, os movimentos sessentoitistas (que o livro, pensando BH, chama do tipo “estilo de vida”) foram recuperados e tornados brands, a mudança no padrão societal também exprime uma vitória dessas lutas. A substituição do modelo verticalizado de cúpulas e patrões, pela gestão em redes horizontais de liderança distribuída foi, do ponto de vista do trabalhador, uma vitória. Uma vitória cujo sentido, obviamente, é reposto à disputa no momento seguinte às transformações. No entanto, uma vitória ainda. A classe capitalista não precisava mudar a forma de governança não tivesse sido forçada a adaptar-se aos novos tempos, pelos movimentos e lutas daquela época. Não se pode jogar fora o bebê com a água, como se as transformações, inclusive comportamentais, criadas pelas lutas ao redor de 1968 não tivessem seu lado positivo — o movimento negro ou LGBT, a descolonização, o feminismo, a revolução sexual, a cultura como trincheira da luta de classe.
De maneira similar, a inclusão social do lulismo não pode ser entendida apenas como absorção pela “sociedade de consumo”, que tudo despolitiza. O consumo não se reduz a consumismo, porque ao fim e ao cabo alguém consome sem ser consumido. Quem consome é agente. O âmbito do consumo pode ser reapropriado como ferramenta de luta. No âmbito do consumo, também está embutida na relação de produção que cada um estabelece com o mundo.
Por exemplo: a massificação do acesso à internet e telefonia, bem como a popularização de celulares, wi fi e hardware, nos últimos 15 anos, também explicam a velocidade e a difusão dos protestos de 2013. As redes sociais, celulares e streamings estão tão incorporados ao cotidiano de relacionamentos, amizades, trabalhos e autoprodução como pessoa que, — uma vez iniciado um processo político de indignação e mobilização, — passam imediatamente a servir como armas de resistência. Inclusive, se for o caso, contra aquele modelo de inclusão social, consumo ou trabalho que viabilizaram a posse das ferramentas em primeiro lugar.
O novo “padrão societal” não pode ser limitado a novas técnicas de gestão, ao estado da arte da dominação do capitalismo contemporâneo. Trata-se, na realidade, de uma mutação do modo como as pessoas se organizam e cooperam na vida, o que tem uma dimensão positiva, uma vitória parcial. Por isso, não é correto, politicamente, enxergar como antagonismo a diferença entre movimentos sessentoitistas (“estilo de vida”) e “mobilização de base”. A resistência de Parque Gezi, na Turquia, une desde a cultura ecumênica antiautoritária dos anarquistas até grupos ecologistas, passando por uma vasta cartografia de cores militantes. A Praça Tahrir, no Egito, propiciou uma coalizão improvável de lutas campesinas, feministas, ativistas digitais, sindicatos e islamistas como os da Fraternidade Muçulmana. Nas ocupas brasileiras, em 2011, se misturaram moradores de rua e arte-ativistas, anarquistas mais tradicionais e coletivos ligados à “pedagogia do oprimido”, e assim por diante. É claro que as muitas clivagens e diferenciações internas — inclusive entre artista e política, entre amor e disputa, entre classe e raça etc — se tornam um problema de organização, de construção de novos platôs de linguagem e ação comum, na medida em que as diferenças dobram e se redobram entre si. Mas o maior antagonismo, e isso fica claro no momento da repressão, continua sendo entre o movimento e o estado. Ou seja, entre a teia complexa de alternativas e um organismo fechado e engessado de gestão, acesso e propriedade, verticalizado, e no que as pessoas cada vez mais não se sentem representadas.
O ponto que eu questiono reside na concepção demasiado moderna esposada por Rudá, para sua leitura dos protestos. O que incide sobre o problema da auto-organização do movimento. Para ele, a política ainda é o espaço do universal. Existe ainda aí um modelo vertical que aparece nos próprios conceitos e métodos. A política almeja pelo público e precisa integrar os interesses privados, o múltiplo das expressões particulares ou individuais. A razão pública se forma pela elevação da esfera do privado. E quando vivenciamos épocas em que o público está ocupado pelo interesse privado, o problema passa a ser que o público ainda não é “público” o suficiente. Nessa lógica, sempre haverá alguma instância superior que deva ser desinteressada o bastante para enunciar o Uno, diante das contradições irresolúveis do Múltiplo. O ideal regulador continua sendo uma visão de política como resultado da sucessiva integração dos interesses particulares em interesse geral, o seguro patamar de crítica da maturidade de uma luta. Noutras palavras, as lutas sociais precisam perseguir a estratégia para fazer a luta política. Daí que Rudá pode acusar de conservadorismo as classes médias, porque defendem sempre seu próprio umbigo, mas também o “conservadorismo popular”, porque com o lulismo os pobres estariam mais debruçados em sucesso no capitalismo, cultivar laços familiares e consumir, do que em ocupar e disputar a esfera pública.
Com isso, Rudá vai questionar a cultura intimista, a autoexpressividade imediatista e o culto ao estético como despolitizadores, uma vez que não contribuem para a formulação integrada de pautas e sujeitos políticos. Por isso também vai criticar o conceito de comum, manejado pelo autonomismo marxista, para explicar o caráter constituinte do atual ciclo de lutas. O comum ainda cairia no vício da “cultura intimista”, agora com viés comunitário, autorreferencial, e insuficiente para forçar mudanças institucionais. Ocorre que o comum, em sua vertente neoliberal (geralmente declinado no plural, como “commons” ou bens comuns), já é uma aposta séria de institucionalidade, pelo menos do lado do capitalismo. O comum já está sendo institucionalizado pela policymaking de vários governos. Basta ver o trabalho extensivo e muito influente de Elinor Ostrom, a nobel da economia de 2009, apenas um numa sequência infindável de teorias e propostas, que aos poucos vão se tornando políticas públicas. O conceito de comum, na vertente de luta, admite que o capitalismo hoje já reconhece os bens comuns e a produção do comum, a sua enorme riqueza, exatamente para conseguir explorá-los melhor, para mantê-los sob controle. O comum é o terreno do conflito e não alguma panaceia redentora.
O problema, e aí eu concordo com Rudá, continua ser como derivar institucionalidades dos novos movimentos e lutas políticas. Para mim, é o problema de como derivar instituições do comum, que frustrem as formas de exploração, velhas ou modernas, horizontais ou verticais. E não simplesmente como obter respostas institucionais do estado, ascendendo à esfera pública. É preciso transformar a esfera pública e destituir o estado de seu monopólio. Me parece que todo o ciclo de lutas globais disparado em 2011 está mais voltado a recusar a representação como forma política, em vez de simplesmente criticar os conteúdos que estão preenchendo essa forma. Isto é, trata-se de ir além da modernidade e seus polos público x privado, elevação x bases, para não acabar dependendo de ainda outra figura do patrão, do pai, de Deus. É bem mais ousado.
Portanto, a meu ver, o que está em jogo é uma proposta construtiva de imanência onde os movimentos e lutas de novo tipo gerem, por si mesmos, as alternativas. Isso que está sendo tentado, num enorme esforço, por movimentos desde o norte da África, as acampadas espanholas, o Occupy norte-americano, Egito, Turquia, Brasil 2013. As lutas sociais aí são imediatamente políticas, porque não aspiram pela elevação a algum outro patamar, mas a construir elas próprias outros níveis, outros platôs, não necessariamente reduzidos ao que hoje entendemos por “esfera pública”. Como organizar essa imanência, sem perder de vista o antagonismo diante das explorações e opressões, me parece ser o problema real indicado por este ciclo. Obviamente, estou me apoiando em vários outros autores que vivem esses protestos; para citar um, Michael Hardt.
Em síntese, a crítica conceitual de Rudá é contra um pós-modernismo fraco, incapaz de se sustentar diante do modernismo forte que é o estado. Desse jeito, os manifestantes vão acabar esmagados e todo o seu esforço amargamente dissipado. O movimento corre o risco de comer a sua própria cauda, se não fizeralguma coisa para disputar de forma mais eficaz a esfera pública. E esse alguma coisa passa pela necessidade de lidar com o problema institucional. Apesar disso, Rudá sente que existe um excedente pouco visível, uma latência em tudo isso que escapa de sua visão aquilina, e que ele não consegue enquadrar na visão moderna. No meio da mata, ou talvez debaixo da terra, tem alguma coisa se mexendo. Alguma coisa grande.
terça-feira, 1 de abril de 2014
Assinar:
Comentários (Atom)